 De qualquer ângulo que se observe, de qualquer perspectiva usada para interpretar ou analisar a maxissérie Doomsday Clock, veremos uma sucessão de equívocos. Talvez essa seja a melhor definição para esse trabalho de Geoff Johns e Gary Frank, equívoco. Mas, calma: isso não quer dizer que tenha sido um erro ou que seja ruim. O ponto é que, seja da parte da DC Comics, seja da parte dos próprios leitores, propostas e expectativas acabaram se mostrando equivocadas.
De qualquer ângulo que se observe, de qualquer perspectiva usada para interpretar ou analisar a maxissérie Doomsday Clock, veremos uma sucessão de equívocos. Talvez essa seja a melhor definição para esse trabalho de Geoff Johns e Gary Frank, equívoco. Mas, calma: isso não quer dizer que tenha sido um erro ou que seja ruim. O ponto é que, seja da parte da DC Comics, seja da parte dos próprios leitores, propostas e expectativas acabaram se mostrando equivocadas.
Com a conclusão da série, isso fica totalmente evidenciado pela frustração da maioria dos leitores, bem como pela incompetência demonstrada pelo editorial da DC, afinal, foram dois anos para finalizar as doze edições, que deveriam explicar tudo que ocorreu com seus personagens e multiverso desde o evento Flashpoint’, passando pela fase Novos 52 e o Renascimento. Ao invés disso, o que predominou foi o fator Alan Moore. Usar os conceitos de Watchmen como ponto de partida para toda uma nova série que revelaria o motivo de tantas alterações cósmicas, obviamente foi uma jogada de marketing antes e acima de tudo. Funcionou para fisgar os leitores, mas criou uma armadilha cruel para a equipe criativa. Foi o primeiro grande equívoco, fomentar uma “disputa”, um desafio para ver se Johns e Frank poderiam igualar ou superar a obra-prima de Moore e Dave Gibbons.
Isso foi uma grande besteira. E os leitores que focaram nesse aspecto acabaram perdendo muito, ao ignorar outros. Johns e Frank também acabaram desperdiçando energia ao tentar emular, em algumas edições, estilo e estética usadas com maestria por Moore e Gibbons. Bobagem, não havia necessidade disso. Assim como também foi uma grande idiotice a ladainha de parte dos leitores de que a DC e o roteirista estariam “remexendo as latas de lixo” de Alan Moore. Se desarmarmos os espíritos, veremos que Johns apenas pegou tudo que leu em Watchmen e adaptou para as convenções superheróicas tradicionais. O que, basicamente, é o inverso do que Moore fez, ao destituir os super-heróis dos clichês, deixando tudo seco e mais próximo da sensação desesperançada do nosso mundo real. E é aí, prezado leitor, que está a verdade essencial de Doomsday Clock, capaz de desfazer todo e qualquer equívoco.
Geoff Johns não fez um trabalho autoral. Fez um projeto pessoal.

Quem conhece a carreira de Johns, sabe de toda a novela. Quem não conhece os detalhes, basta saber uma coisa: ELE É UM LEITOR SECURENTO QUE AMA GIBIS DE SUPER-HERÓIS. Sim, OK, ele trabalha para um conglomerado, uma megacorporação, precisa dançar conforme a música que a Warner lhe obrigar a ouvir. Maior prova disso está nos Novos 52. Aquela Liga da Justiça que leva o nome dele nos roteiros (com arte de Jim Lee), não foi escrita pelo mesmo sujeito que tornou a Sociedade da Justiça da América um sucesso que honrava o passado e construía um futuro. Ou o camarada que brilhou escrevendo Superman em Origem Secreta e com o retorno da Legião dos Super-Heróis. Porém, mesmo tendo de se submeter às determinações dos patrões, Johns nunca mudou. Estava apenas esperando a hora certa pra mandar um “EU AVISEI”, que veio na forma do Renascimento, uma forma de desfazer os Novos 52, usando uma convenção das antigas mesmo. Uma mega saga onde tudo que aconteceu seria explicado, carecendo de uma nova história para resolver o perrengue. O problema é que a nova história estaria enraizada em uma velha história: Watchmen.
Com o especial Renascimento publicado em 2016, foi criado um hype tão grande que, como seria de se esperar, tudo desabou sob o peso da expectativa. Mas, olhando estritamente pelo ângulo do roteirista, a ideia corrobora a tese do projeto pessoal do Johns.
Embora tenha recorrido várias vezes, ao longo dos anos, de temas que aproximaram seus roteiros do aspecto mais superficial e chamativo de Watchmen, uma aparente abordagem adulta pelo uso da violência gráfica, Geoff Johns sempre fez um esforço para que seus gibis resgatassem o otimismo dos velhos tempos, além dos laços de amizade e afeto entre os personagens. Coisa que foi sumariamente massacrada nos Novos 52. Geoff Johns viu no Renascimento a chance de contestar e desfazer aquilo que considera um desserviço, sejamos justos, não proposital decorrente de Watchmen. A desconstrução tão bem explorada por Moore que, infelizmente, virou uma infecção que quase destruiu os super-heróis nas décadas seguintes. De uma só tacada, ele almejou corrigir a DC Comics e ousou o impensável, o que nem mesmo Ozymandias e Dr. Manhattan puderam fazer. Com a edição 12 de Doomsday Clock, pudemos ver e entender o que Johns planejou.
Antes disso, o caminho foi longo, cansativo e, por isso mesmo, deu chances para outros equívocos. De todas as partes. Por interesses editoriais, financeiros ou criativos, uma sequência de mudanças nos quadros da DC acabaram desgastando Doomsday Clock, além de tirar do gibi o impacto de alguns eventos. Scott Snyder e Brian Michael Bendis, não intencionalmente, esvaziaram muito da importância da Legião dos Super-Heróis, da SJA e de outros como Lex Luthor, no que Johns dava a entender que faria com eles. Os atrasos da equipe criativa abriram espaço para Snyder e Bendis ou a ascensão dos dois no panteão de roteiristas da DC é que forçaram Johns a atrasar para readequar seus roteiros? Ainda não sabemos e talvez nunca seja revelada a verdade. Outro equívoco, se pensarmos direito… Acreditar que algo nesse escopo poderia se estender por mais de um ano e esperar que todos os gibis da editora ficassem à reboque disso. As contas não param e, diante da possibilidade de trazer alguém com o renome de Brian Bendis, por exemplo, claro que o editorial da DC não pensou duas vezes ao entregar para o camarada as chaves da casa.

DE TODA FORMA…
Doomsday Clock se revelou uma série que parecia ser várias ao mesmo tempo. Teve tramas e subtramas desabando sobre si e, principalmente pela demora na publicação, acabou ficando com algumas delas esquecidas pelos cantos, prejudicando a experiência da leitura em geral.
Algumas edições, inclusive, pareciam totalmente desconexas da trama principal, não fossem menções aos elementos fixos da história. O que, é preciso dizer novamente, não fez com que ESSA tal edição fosse ruim. O roteirista conseguiu contar bem as histórias, mas fez uma grande história que não funcionou tão bem no conjunto geral. Exceto por uma verdade inabalável. Johns argumentou com perfeição sobre gibis de super-heróis, sobre a importância do Superman e tudo isso sem recorrer ao cinismo, a nada farsesco ou que diminuísse o valor artístico e emocional de tudo isso.
Ele elaborou o conceito de Metaverso para a Terra “principal”. Assim, afirmou que a mesma realidade fictícia criada por Jerry Siegel e Joe Shuster, publicada pela primeira vez em 1938, é a mesma que acompanhamos nas últimas oito décadas, as demais é que são as variações, sendo que a cada “nova” Terra criada, o Metaverso passa a ser essa realidade em voga, a anterior se torna uma terra paralela. Uma admissão de que a realidade material, em que vivemos, interage com a fictícia, dos quadrinhos, mas sem fazer dos gibis apenas um amontoado de desenhos e palavras e cores que não possuem relevância em si. Para Johns, conhecido pela forma como fala dos personagens nas entrevistas como se fossem pessoas e não coisas, todos eles importam. Eles são ideias, não mentiras.
O que torna mais fácil entender e gostar de Doomsday Clock.
Diferente de Watchmen que, embora também reflita o quanto Alan Moore se importava com os personagens, foi essencialmente um trabalho sobre a arte de fazer quadrinhos, de explorar as possibilidades do roteiro, dos desenhos e de sua junção harmoniosa para narrar uma história, Doomsday Clock é um trabalho sobre o amor dos leitores de super-heróis e do que eles simbolizam.
O que foi equivocado, nesse último, foi esperar que se tornasse uma obra-prima como o primeiro ou mesmo a SAGA QUE CONSERTARIA TUDO, como foi vendida. Não foi nada disso. Doomsday Clock é o esforço de um leitor, que se tornou roteirista, para desfazer outro grande equívoco, o de que super-heróis precisam crescer, que os leitores precisam “amadurecer”, que os temas e abordagens e sensibilidade trazidos, principalmente, pela Invasão Britânica dos anos 1980, de Moore, Grant Morrison e Neil Gaiman, mas também por Frank Miller e outros norte-americanos, devem ser a regra. Nisso, Johns vem e pega o mais simbólico trabalho (e personagens) do tal período e simplesmente converte tudo em uma aventura padrão, com maniqueísmo de praxe, fanservice e outras convenções tão desprezadas pelos adultões.
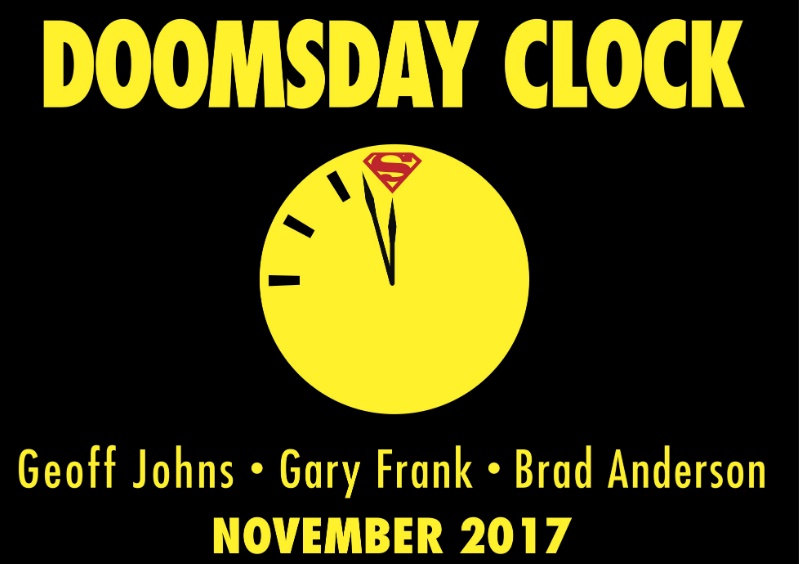
PORÉM…
Existe alma e essência nisso, também. Superman não vence o Dr. Manhattan. Ele o convence. O super-herói ideal, inspirando o super ser anti-heroico a fazer algo bom, digno, épico e, no final das contas, impossível. Ou seja, super-heroico. Aos olhos dos leitores mais críticos, uma grande baboseira. Aos olhos de uma criança? Uma vitória inspiradora. Geoff Johns acredita no simbolismo desses super-heróis. Pode ter falhado aqui e acolá ao longo dos anos. Até mesmo caído em contradições. Com certeza está nadando contra correntes fortíssimas, seja a nível editorial, seja em relação a certa parte dos leitores. Pode até ser que esse seja seu último trabalho, caso as vendas e recepção sejam negativas junto a eles, editorial e parcela-adultona-dos-leitores.
Mas ele fez o que realmente se propôs. Agiu na ficção como não podemos, na maioria das vezes, agir no mundo real. Quando uma tragédia ou injustiça ocorre aqui, não podemos criar uma história que desfaça ou refaça tudo. Nos gibis, podemos. Sim, é algo bobo. Coisa de criança. Coisa de super-herói. Assim, ele resgatou tudo que o quis na DC Comics, mas foi além e invadiu uma outra realidade fictícia essencialmente condenada, a resgatou das trevas e do desespero, dando não apenas um final feliz, mas aquilo que um certo roteirista careca e escocês já havia profetizado em um singelo gibi chamado Superman Beyond.
Em nome de tudo que os super-heróis representam, Geoff Johns deu ao universo dos personagens de Watchmen um “To Be Continued”.

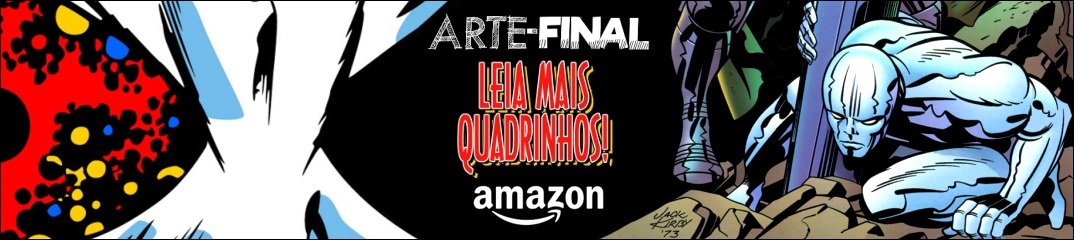














Um comentário sobre “Doomsday Clock, enfim”