 136 edições. 136 meses. 12 anos e 4 meses. Quanta coisa acontece em mais de uma década? Nada nem ninguém permanece o mesmo tanto tempo. Ou melhor: quase nada. Histórias em quadrinhos, especialmente aquelas produzidas em ritmo industrial e parte de grandes marcas, com todas as amarras criativas inerentes a esta situação, são um exemplo impressionante de capacidade de resistir quase incólume ao tempo. Como disse Stan Lee, o leitor de quadrinhos finge gostar de mudanças, evoluções e amadurecimento, mas em verdade só gosta da ilusão de tudo isto. E lá vamos nós a um eterno ciclo de mudanças cosméticas ou que duram dois ou três arcos, até a coisa voltar ao mesmo bom e velho esquema. No caso de títulos de equipes as mudanças se limitam a formações rotativas com um ou outro novo personagem, no máximo uma mudança temporária de sede, uma morte para chocar, mas a dinâmica é eterna: salvar o mundo contra a ameaça do mês, em meio a uniformes coloridos e o bem vencendo o mal. Afinal, em time que está ganhando não se mexe, certo?
136 edições. 136 meses. 12 anos e 4 meses. Quanta coisa acontece em mais de uma década? Nada nem ninguém permanece o mesmo tanto tempo. Ou melhor: quase nada. Histórias em quadrinhos, especialmente aquelas produzidas em ritmo industrial e parte de grandes marcas, com todas as amarras criativas inerentes a esta situação, são um exemplo impressionante de capacidade de resistir quase incólume ao tempo. Como disse Stan Lee, o leitor de quadrinhos finge gostar de mudanças, evoluções e amadurecimento, mas em verdade só gosta da ilusão de tudo isto. E lá vamos nós a um eterno ciclo de mudanças cosméticas ou que duram dois ou três arcos, até a coisa voltar ao mesmo bom e velho esquema. No caso de títulos de equipes as mudanças se limitam a formações rotativas com um ou outro novo personagem, no máximo uma mudança temporária de sede, uma morte para chocar, mas a dinâmica é eterna: salvar o mundo contra a ameaça do mês, em meio a uniformes coloridos e o bem vencendo o mal. Afinal, em time que está ganhando não se mexe, certo?
Talvez. Mas Uncanny X-Men de Christopher “Chris” Claremont nunca foi de seguir regras, fórmulas e convenções.
A história do principal título da franquia mutante é razoavelmente conhecida: no surgimento era quase o patinho feio da Marvel, que apesar do conceito promissor jamais foi o foco principal dos criadores. A expressão “Os super-heróis mais estranhos de todos os tempos” na capa de X-Men #1 sempre teve, na prática, uma conotação mais negativa. Nem mesmo o sopro de vida com os geniais Roy Thomas e Neal Adams a partir de X-Men #56 adiantou, e o título foi cancelado na edição 66. Pouco mais de 2 anos depois, veio Giant-Size X-Men #1 escrita por Len Wein, novos personagens com apelo instantâneo, os visuais icônicos de Dave Cockrum… e o resto é história. Então um escritor novato de 25 anos – deixaria o título aos 41 –, Claremont recebeu a tarefa de tocar a retomada do título, e já começou com um belo cartão de visitas: uma morte até hoje histórica, logo na segunda edição. Não é segredo que esta é a mais cultuada, reconhecida e marcante fase dos X-Men, especialmente a histórica parceria (também nos roteiros) com John Byrne, que rendeu clássicos que dispensam quaisquer comentários como “Saga da Fênix” e “Dias de um Futuro Esquecido”. Porém, foi a longa década seguinte, quando Claremont assumiu sozinho a franquia no mais longo run da história dos quadrinhos de super-heróis, que fez de X-Men indiscutivelmente o conceito, a franquia e os personagens preferidos de muitos fãs e – como toda boa ficção – uma influência na visão de mundo.

Entre Uncanny X-Men #144 (a primeira após a saída de Byrne), publicada em abril de 1981, a Uncanny X-Men #279, sua última edição, publicada em agosto de 1991, Claremont levou o título a extremos. Experimentou, mudou, subverteu as convenções, arriscou, brincou. O tom aventuresco a mil por hora no melhor estilo Indiana Jones da parceria com Byrne, no qual a ação quase não dava pausa para respirar – e que o mesmo Byrne levou tão bem para seu maravilhoso run no Quarteto Fantástico – diminuiu e por algumas vezes desapareceu, dando lugar a foco quase absoluto em dois pontos que se complementavam: a parábola do preconceito racial explorada em todos os ângulos possíveis e até as últimas consequências, e os personagens dissecados em suas características, transformações e, principalmente, profundidade. Talvez este último ponto seja o resumo mais preciso sobre a carreira dele, tanto nos X-Men como em qualquer outro trabalho: tudo sempre foi sobre os personagens.
No prefácio da minissérie em parceria com Frank Miller, naquela que até hoje é a história definitiva de Wolverine (que me perdoe Barry Widsor-Smith e sua Arma X), Claremont explica que sua intenção e seu método ao redefinir o personagem de um esquentadinho carismático mas raso feito um pires para alguém eternamente dividido entre o animal selvagem e o samurai honrado. Podemos extrapolar essa explicação para todo o seu trabalho na franquia mutante. Em vez de estabelecer a história (em geral variações do básico “vilão surge, age, é confrontado e vencido), ele foca no personagem (ou nos personagens) como o núcleo e se busca entender todo o possível sobre ele. Quem é Wolverine? O que deseja? Por que faz o que faz? Como reagiria a essa ou aquela situação? Se retirarmos poderes, uniformes, cara feia, o que sobra no homem? Quais mudanças que a história faria nele? Etc. Somente após responder estas questões, ele estruturou a narrativa. Em outras palavras: era a história totalmente em função do personagem, não mais o personagem apenas cumprindo funções dentro da história. Logan foi oficialmente criado por Len Wein e John Romita, mas não é exagero algum dizer que Claremont recriou o personagem na década de 80, estabelecendo todas as bases que o tornaram um fenômeno mundial perene. Wolverine manteve todas as suas características básicas (selvageria, violência, o passado misterioso, etc), mas ganhou complexidade, camadas, profundidade, coadjuvantes que acrescentavam algo, mitologia. Esta visão e esta forma de trabalhar norteiam todo o run de Chris Claremont em Uncanny X-Men.
Não foram “apenas” 136 edições, claro. A história contada era ainda maior que isso. Existiram numerosos anuais, minisséries (Wolverine, Wolverine/Kitty Pride, X-Men/Quarteto Fantástico, X-Men/Vingadores) e até uma graphic novel icônica que marcou uma geração (God Loves, Man Kills). Mais do que isto: Claremont transformou um título isolado de segunda importância em uma das maiores franquias dos quadrinhos, criando títulos tão distintos e únicos entre si que pareciam de escritores diferentes. Novos Mutantes resgatou o clima de estudantes dos primeiros anos dos X-Men, mas com uma gama de personagens tão disfuncionais quanto apaixonantes, levando o drama da inadequação e dos conflitos da adolescência a um patamar inimaginável aos tão bem-comportados primeiros alunos de Xavier. Excalibur apresentou uma mistura de ficção científica e comédia até hoje incomparável, brincando também com as peculiaridades da Londres natal de Claremont. Wolverine parecia muito mais um filme de ação oitentista que um gibi de super-heróis. Para cada título, Claremont criava toda uma mitologia cuja solidez que parecia vir de décadas. Isso para não falar da imensa e vital contribuição de Louise Simonson escrevendo X-Factor e, posteriormente, Novos Mutantes. No auge da parceria de ambos, a saga “Inferno”, parecia que os 3 títulos eram escritos pela mesma pessoa. Em entrevista, Claremont se referiu com precisão às histórias de Louise em X-Factor como “nitroglicerina pura”.
 Mas estou me adiantando.
Mas estou me adiantando.
As coisas começaram devagar, é verdade. Uncanny X-Men #150, a primeira grande história solo pós-Byrne, é uma aventura típica de super-heróis, embora as sementes para as mudanças em Magneto estivessem lá. Os primeiros dois anos são “apenas” um gibi de super-heróis extremamente bem escrito, mas sem novidades, malgrado a “Saga da Ninhada” tenha momentos do mais puro horror. Pode-se afirmar que foi a partir de Uncanny X-Men #168, com a clássica cena de Kitty Pride apontando direto para a “câmera” e exclamando “O Professor Xavier é um idiota!”, que Chris Claremont começou a se soltar.
A partir do surgimento do povo subterrâneo Morlocks no arco seguinte, em uma clara alegoria não apenas ao clássico de H.G. Wells, mas também uma crítica a como padrões de beleza e “normalidade” dividem as pessoas inclusive dentro de povos oprimidos, Uncanny X-Men entrou em sua mais estranha (e melhor) fase. Ao final do arco, Tempestade reivindica a liderança do povo em um duelo cru e violento, diferente de qualquer coisa vista anteriormente no título, e após vencer volta à superfície sem olhar para trás, se mostrando uma líder desinteressada, omissa e vaidosa, cujas consequências de seu “reinado” desastroso se fariam sentir pouco tempo depois. Apenas mais uma na longa série de decisões questionáveis e erros crassos dos X-Men de Chris Claremont. Não tínhamos mais referências de nobreza, mas pessoas reais que erravam e erravam feio. E o mais importante, esses erros voltavam para cobrar seu preço.
Um parêntese: estes acontecimentos, no traço cinematográfico de Paul Smith, marcaram outro elemento que distinguiu o título. Intencionalmente ou não, desde a saída do lendário Dave Cockrum até a chegada de Jim Lee nos anos 90, os X-Men nunca mais tiveram um desenhista, digamos, “padrão”, seja nomes sinônimo de superequipes, como George Pérez, seja “clássicos” da Marvel como os irmãos John e Sal Buscema. O tipo de artista que passou pela equipe (Paul Smith, John Romita Jr., Rick Leonardi, Marc Silvestri) eram menos clássicos, mais estilizados, até mais “sujos”. Exceto por um uma outra edição isolada, como a clássica Uncanny X-Men #213 na qual Alan Davis fez todos se apaixonarem por Psylocke, este estilo menos agradável dominou o título e contribuiu para torná-lo único.

O símbolo indiscutível desta era, e que por isto merece uma análise mais acurada, é sem dúvidas “Massacre de mutantes”, publicada entre Uncanny X-Men #210 e #213 (junto com outros títulos, óbvio). Claremont nos apresenta uma história de genocídio, derrota e consequências. Os momentos mais marcantes da saga não são nada heroicos, mas situações de desespero e moral duvidosa como Colossus quebrando o pescoço de Maré Selvagem ou Tempestade autorizando Wolverine a executar quem encontrasse pela frente. Os X-Men não agem como heróis, não salvam o dia, mal saem vivos e perdem metade da equipe. Nada mais diferente das histórias habituais onde os heróis vencem, todos saem inteiros sorrindo sob o sol, os arranhões sofridos são cosméticos e nada muda no status quo.
A citada cena onde Colossus comete um assassinato a sangue-frio vale um adendo. Todo fã se recorda de Uncanny X-Men #128, parte da já citada e cultuada fase em parceria por John Byrne, onde nosso russo favorito é obrigado a assassinar o vilão Proteus. A cena toda é linda e heroica, um jovem precisando tomar uma decisão difícil que era a única opção para salvar o mundo, tudo no traço redondo e otimista de John Byrne. Tudo exatamente como manda o figurino. O contraste com a cena 83 edições depois parece se tratar de revistas e personagens completamente distintos, separados por um infinito de diferenças. Piotr avança para executar movido por pura mistura de raiva e vingança, com o barulho característico e doentio do pescoço quebrando dividindo o quadro com a expressão cruel do russo, tudo no traço sujo, expressivo e criticado de Bret Bleevins. Ainda segurando o corpo inerte de Maré, Colossus se limita a virar para Arpão e avisar que este seria o próximo.
Este tipo de dilema ético vinha de antes, como na antológica (e controversa) cena final de Uncanny X-Men #207, quando Wolverine quase assassina uma colega de equipe (Rachel Summers) para impedir que a mesma se tornasse… uma assassina. O que à primeira vista parece contraditório faz todo o sentido pensando na concepção de Claremont sobre o personagem. Logan é um samurai que conhece, aceita e administra todos os dias com um lado sombrio dentro de si, sabe que já fez coisas imperdoáveis e convive bem com isso. Faria quase tudo novamente, ou pior. Mas ele sabe que este caminho tem um preço imenso, e não deixaria nenhum amigo, especialmente alguém inocente, acompanha-lo nele. Wolverine prefere matar uma amiga a deixar que se torne ele. Que diferença para o personagem em seus primórdios…
Esta foi a tônica e a marca de todo o run: nenhum personagem permaneceu estático, em visual ou conteúdo, e o tempo todo seus limites éticos eram testados e, muitas vezes, ultrapassados. Tempestade, a personagem cujo favoritismo Claremont nunca tentou disfarçar, primeiro ganha um visual punk (Uncanny #173) com direito a moicano, nada compatível com a família tradicional americana, para depois perder os poderes (Uncanny #185) – elemento relevante em qualquer personagem de quadrinhos de super-heróis, mas que nela sempre foram talvez a característica mais marcante. “Eu sou Tempestade. Eu controlo o clima” – por mais de 3 anos (até Uncanny #226). Kitty Pride ganhou uma minissérie na qual evoluiu mais do que personagens inteiros em décadas, ganhando outro nome, habilidades e postura. Magneto… bom, comentaremos a seguir. Isso sem falar na criação de personagens que hoje são verdadeiros pilares da franquia (e outros um tanto esquecidos, mas que já tiveram seus momentos) e surgiram neste período direto da imaginação do britânico e sua habilidade em caracterizar com precisão desde o primeiro instante: Psylocke, Vampira, Gambit, Forge, Rachel Summers, Sr. Sinistro, Carrascos, Morlocks, Míssil, Magia, etc, etc, etc. Até mesmo os colantes coloridos – um dos maiores símbolos dos quadrinhos de super-heróis –, de alguns personagens (Vampira, Tempestade) foram trocados por roupas praticamente normais.

Talvez a única exceção ao exposto acima, que permaneceu praticamente o mesmo em sua personalidade durante todo esse run, foi nosso amado Noturno, mas nem Claremont conseguiria melhorar o que já nasceu perfeito. Ademais, mesmo ele foi melhor desenvolvido em outra equipe (Excalibur), destilando todo o seu carisma, espírito aventureiro, bom humor, otimismo e visão de mundo diametralmente oposta à sua aparência. Podemos especular que um dos motivos de Claremont retirar o personagem da equipe em Uncanny #215 – e transferi-lo para um título infinitamente mais leve e otimista, também escrito por ele – seja o fato de Kurt Wagner definitivamente não combinar com os ventos sombrios que atingiriam a equipe. Excalibur deveria ser matéria obrigatória para os escritores que usaram o catolicismo de Noturno para transforma-lo em um chato mal-humorado, mostrando que não entenderam absolutamente nada.
Seriam necessárias dezenas, talvez centenas de páginas, para dissecar exaustivamente todos os aspectos únicos do run, mas um deles é impossível de se omitir: as personagens femininas. Quadrinhos norte-americanos sempre foram, e ainda são, uma mídia amplamente consumida por homens, e este fato é frequentemente usado como justificativa para se perpetuar eternamente um ambiente muitas vezes machista e até misógino, exigindo sempre o mesmo tipo de protagonista com o qual alegadamente os leitores poderiam se identificar. Todo clamor por mais diversidade esbarra em protestos histéricos de “lacração” e alegação de que personagens fora dos padrões clássicos não vendem. Pois Claremont transformou Uncanny X-Men no principal e mais bem-sucedido título da maior editora do mercado estendendo o tapete vermelho para personagens femininas dominantes, protagonistas, livres e reais, em uma época na qual ainda dominava inquestionavelmente a pobre mocinha em apuros salva pelo herói. Nenhum título jamais teve tantas mulheres salvando o dia, fazendo o que queriam, tomando a iniciativa e ganhando os holofotes. Talvez o segredo deste sucesso seja que ele jamais desrespeitou personagens preexistentes ou diminui os “medalhões” anteriores para isso. As personagens femininas novas ou anteriores, e a habilidade dele em desenvolve-las, eram simplesmente boas demais. Chris estava tão à frente do seu tempo que frequentemente precisava ser contido pelos editores: é conhecida a história que ele queria fazer de Mística, uma personagem mulher capaz de assumir qualquer forma, o pai de Noturno, em uma visão fluida de gênero que foi imediatamente podada.
Os leitores jamais tinham descanso ou respiro. As coisas pioravam, e pioravam, (em Uncanny #204, já citada acima, Noturno profetiza os acontecimentos seguintes, refletindo o quanto os X- Men deixaram de viver aventuras divertidas para lutar em tempos mais sombrios, nos quais sacrifícios imensos traziam pouco ou nenhum resultado) e quando parecia que não tinha como piorar mais, Claremont sadicamente mostrava que não sabíamos de nada. A equipe era atacada de todos os lados, e a cada vez que escapava por um fio saia mais debilitada, frágil, instável. As brigas internas pioravam, as vitórias eram fugazes e amargas. E ainda assim os personagens lutavam, lutavam e lutavam, resistindo quando nada dava certo, porque simplesmente não conseguiriam fazer diferente. Ademais, os pequenos triunfos pareciam ser tudo o que os personagens – e os leitores – precisavam para se erguer. Claremont era mestre nisso: fazer pequenos instantes de normalidade, algo banal como uma noite em um bar (Uncanny #239), se tornar algo que fazia tudo valer a pena. E o que dizer dos famosos jogos de beisebol que a equipe disputava no exterior da Mansão, como o mostrado em Uncanny #201? Era como se todos sentissem que, de alguma forma, as coisas dariam no final, mesmo que alguns (ou muitos) não estivessem lá para ver. Os personagens também jamais se entregavam a lamúrias eternas e pena de si mesmos, o que foi uma reclamação constante (e justa) dos leitores no período pós-Claremont. Vampira, por exemplo, vivia o eterno problema de não poder tocar ninguém – e isso era frequentemente explorado e citado nas histórias – mas ao mesmo tempo era debochada, impulsiva, bem-humorada. O drama era levado às últimas consequências, mas também delicadamente equilibrado.
Vimos a equipe perder metade dos integrantes (Uncanny #212), abandonar a Mansão (Uncanny #215), cogitar fingir suas mortes temendo por seus entes queridos serem atacados (Uncanny #219), morrer e voltar (Uncanny #227), ser traída por uma dos seus (Uncanny #242), ter seu principal personagem crucificado (Uncanny #251). Em determinado momento, passamos quase dois anos (entre Uncanny X-Men #251 e #272) acompanhando a equipe simplesmente desfeita, separada pelo globo, cada um com suas aventuras isoladas (ou desaparecidos após atravessar o Portal do Destino, uma “segunda chance” entre ganhar uma nova e imprevisível vida ou continuar aguentando tanta porrada). Ficávamos incomodados ao ver a equipe se despedaçando edição a edição, mas, ao mesmo tempo, os tormentos nos quais Claremont mergulhava os personagens que tanto amávamos eram irresistíveis. Correr mensalmente para ver como as coisas piorariam para nossos mutantes, ou como os respiros de felicidade logo seriam destroçados era tão angustiante quanto magnético.
Eu disse magnético?
O que Claremont fez com Magneto, o primeiro e maior “vilão” da franquia, foi algo sem precedentes (e sem sucessores). Vilões trocando de lado são quase uma instituição dos quadrinhos, e os X-Men são famosos por já terem abrigado entre seus integrantes boa parte dos vilões da franquia, de Mística a Dentes de Sabre. Destino, Lex Luthor, Thanos… até Galactus já ficou ao lado dos anjos por algumas edições, com direito a uniforme dourado. Mas vocês conseguem imaginar uma situação dessas por mais que alguns arcos? E por anos?
Durante os anos 80 (e eu vou considerar o marco inicial da mudança a citada graphic novel God Loves, Man Kills, de 1982, embora, como já dito, os sinais da mudança já estivessem presentes desde Uncanny X-Men #150, de 1981) Magneto passou do caricato vilão que queria dominar o mundo e esmagar a raça inferior a um dos personagens mais complexos, ricos e coerentes em suas contradições (ou contraditórios em sua coerência) dos quadrinhos. Levou anos como não apenas membro ocasional da equipe, mas Diretor do Instituto Xavier e tutor dos Novos Mutantes. Ou seja, o pior inimigo da equipe, quase a antítese do sonho de Charles Xavier, liderando e protegendo a próxima geração de seus inimigos. O ponto de virada desta situação foi o seu julgamento na clássica Uncanny #200 (da época em que edições comemorativas eram realmente históricas), na qual Claremont traz uma reflexão absurdamente atual sobre o que diferencia o terrorismo e a luta desesperada por uma causa justa. A edição termina com Xavier, ferido e precisando ir se recuperar no espaço, pedindo a Magnus que assumisse seu lugar. Claremont aproveitou para resolver dois problemas de uma vez: além de toda a evolução de Magneto, “se livrou” de Xavier durante mais da metade de seu run. Nada mais coerente: tudo o que os X-Men não representavam naquele momento era alunos inexperientes precisando de uma figura paterna para orienta-los. O próprio sonho de coexistência pacífica muitas vezes ficaria em segundo plano frente a um objetivo um pouco mais imediato: simplesmente sobreviver. Ademais, retirar Xavier – sempre um ponto de segurança e apoio – do tabuleiro apenas ajudava a preparar o terreno para o turbilhão de problemas que surgiriam. Mas falávamos de Magneto.
O mais incrível é que toda a mudança no personagem ocorreu respeitando completamente suas características (inclusive as piores) e motivações, fazendo uma guinada de 180 graus parecer quase um rumo natural e quase obrigatório. Um exemplo, dentre tantos: apresentar seu passado como um judeu sobrevivente dos campos de concentração foi uma sacada espetacular para explicar (nunca justificando) sua postura cética e sua convicção em combater fogo com um incêndio maior. Obviamente uma aliança tão frágil não poderia ser definitiva, mas apesar de ter retomado o próprio caminho a partir de Uncanny #253, o personagem, assim como todos os trabalhados por Claremont, jamais foi o mesmo.
Transcrevo aqui seu monólogo na história que foi a despedida de Claremont da franquia mutante, em X-Men #3 (tradução da minissérie publicada pela editora Abril). O texto resume o quanto o personagem mudou além de qualquer possibilidade de voltar a ser o que era. Deixou de ser um protótipo de Hitler para se tornar, na definição perfeita do diretor Bryan Singer, uma alegoria de Malcolm X, enquanto Xavier seria Martin Luther King. Não à toa todas (e não foram poucas) tentativas de fazer o personagem retornar à caricatura anterior foram desfeitas pouco depois. O personagem simplesmente se tornara único, complexo e interessante demais para esse tipo de rótulo. Mais do que isto, o monólogo expressa a capacidade de Chris Claremont em transformar tinta e papel em pessoas reais.

“Eles tomaram sua decisão, Charles. Eu também. Minha vida foi moldada por forças que nenhum de vocês é capaz de entender. Você vê o melhor da humanidade, eu sofri o pior. Você imagina a realidade do holocausto dos campos nazistas. Eu cresci num deles. Talvez eu esteja mesmo manchado de sangue, ódio e morte, e talvez seja isso o que irá compor a couraça para manter a mim e aqueles que ficarem ao meu lado nos dias sofridos que virão. O passado é prólogo, velho amigo. E o futuro que contemplo para você é guerra. (…) Eu salvo vocês, X-Men, porque esta é a minha missão. Proteger meu povo, o Homo Sapiens Superior, a raça mutante, daqueles que nos desejam mal. E essas forças são uma legião. Nisso, e em nada mais, Charles, eu e você concordamos. Eu sobrevivi a um Holocausto, e não posso tolerar ninguém que, por acaso ou de propósito, tente criar outro. Eu não nutria animosidade contra vocês, até que se opuseram a mim. Não tive outra escolha a não ser trata-los como inimigos. Talvez seja melhor que meus sonhos terminem em chamas e glória aqui, bem acima da Terra. Porque, se nos encontrássemos de novo, eu não teria clemência. Fique com seu sonho, Charles. Mas receio que seu coração irá partir quando perceber que nutriu esperanças tolas. Adeus, meu amigo.”
Voltemos a Uncanny X-Men. “Programa de Extermínio”, a última grande saga do período Claremont/Louise Simonson, marcou o fim desta montanha russa. Ao final da saga a equipe estava junta novamente, praticamente todos os personagens reunidos e de volta a boa e velha Mansão Xavier. Faltava apenas acertar alguns detalhes. As edições seguintes a Uncanny #272, embora apresentem um delicioso sci-fi repleto de momentos memoráveis (Uncanny #275 é uma de minhas edições preferidas na história do título. E o que dizer da clássica cena entre Gambit e o Gladiador em Uncanny #277? “Veremos como você se sai contra o baralho inteiro”), passaram longe da montanha russa imprevisível dos anos anteriores. As tensões com o editor-chefe Bob Harras já se faziam sentir e em algumas edições Claremont mal escrevia os diálogos, com todo o argumento vindo do superstar em ascensão Jim Lee, cuja curta parceria com Chris foi tão brilhante quanto tumultuada. Mas vale ressaltar a cena, em Uncanny #275 que marcou o retorno oficial de Magneto ao status de “vilão”, uma página cuja tensão e narrativa provam que Jim Lee sempre foi um artista subestimado.
Profissional dedicado (talvez exageradamente) que sempre foi, Claremont usou o arco que viria a ser conhecido como “Saga da Ilha Muir” (embora o escritor da derradeira edição da história, Uncanny #280, seja Fabian Nicieza) e as históricas 3 primeiras edições do segundo título regular da franquia – a já citada história de Magneto, no que viria a ser, até hoje, a edição mais vendida de todos os tempos e o auge da combinação entre o domínio de Claremont dos personagens e o impacto visual de Lee – para limpar totalmente a casa. Era o que os fãs de quadrinhos conhecem como “back to basics”, um reset limpando quase toda alteração nos elementos clássicos para facilitar tudo o que envolve um produto de grande empresa: acesso de novos leitores, venda de bonecos, adaptação para outras mídias, etc. Saiu deixando tudo quase intocado para as equipes que assumiriam a franquia da qual ele foi pai, mãe, curador, arquiteto e criador durante mais de quinze anos: Professor Xavier na cadeira de rodas, Magneto “vilão” , Instituto como base, treinos na Sala de Perigo, uniformes coloridos, etc. Quem chegasse ali jamais sonharia com o maravilhoso turbilhão dos anos anteriores.
Este texto não se propõe a abordar os erros e acertos da franquia nestes quase 30 anos pós Claremont, tampouco seus controversos retornos. Mas é ponto pacífico entre os fãs que o casamento de caracterizações brilhantes, imprevisibilidade, experimentação, narrativa descomprimida e algo que só consigo descrever como um “pessimismo esperançoso” da década solo do escritor britânico jamais chegou perto de ser reproduzida nem nos melhores momentos da franquia (e, ao contrário do que dizem as más línguas, estes foram muitos) nestas últimas três décadas. Os escritores seguintes também precisaram encarar um problema insolúvel: toda uma geração de leitores formada lendo mensalmente Uncanny X-Men de Chris Claremont. O sarrafo era muito alto, a cobrança impiedosa. Queríamos personagens mais reais que muitas pessoas, rumos inesperados, drama intenso mas jamais piegas, ação emocionante, desfechos imprevisíveis. E não aceitávamos um milímetro a menos. Não pedíamos nada impossível, muito pelo contrário. Encontrávamos tudo isso e mais mensalmente durante mais de dez anos. Era fácil fazer. Não era?
Não, não era. Nunca foi. Ele só fazia parecer fácil. Obrigado, Chris. Muito, muito obrigado.

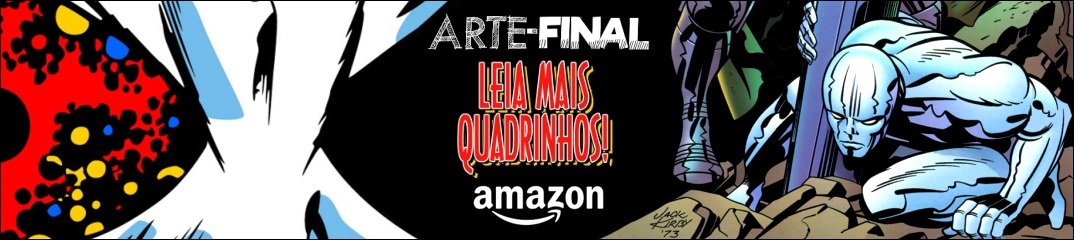














Que texto ! O melhor que já li sobre a fase do Claremont. Muito obrigado.